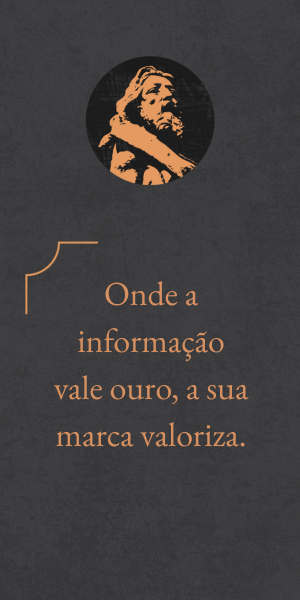“Ouro Preto não tinha movimento negro. Isso era uma cidade preta, tinha muita gente preta, mas não tinha movimento negro.”
A frase é de Márcia Valadares, uma das pioneiras do movimento negro em Ouro Preto. Em depoimento ao Vintém, ela reconstrói quase cinco décadas de luta antirracista em uma cidade que, mesmo sendo majoritariamente negra, demorou a assumir publicamente o racismo que a estruturava.
A história começa em 1977, quando o capoeirista Paulo Braga chega à cidade e começa a conversar com jovens. Márcia, que na época trabalhava fora e voltava a Ouro Preto quinzenalmente, foi uma das poucas mulheres a aceitar o convite para participar das primeiras rodas de conversa sobre a questão racial.
“Ele convidou para fazer uma aula. Aí fui assistir uma aula, gostei, comecei a fazer capoeira com o Braga. Imediatamente, nós começamos a discutir sobre o povo preto da cidade. Por que não existia um movimento?”
Os primeiros passos (1977-1990)
Com Paulo Braga, o grupo começou a se reunir de forma irregular. O filme Chico Rei ajudou a despertar a consciência sobre “o lado preto” da história da cidade. Foi nesse período também que Márcia conheceu Abdias do Nascimento, que reforçou a necessidade de organizar o Movimento Negro Unificado (MNU) em Ouro Preto.
“Como eu não morava aqui, de cada época eu estava morando numa cidade que eu trabalhava no patrimônio histórico. Então, às vezes, eu vinha de 15 em 15 dias. Isso foi muito interessante para começar a discutir sobre o movimento negro da cidade.”
Em 1981, a campanha das Diretas Já trouxe outro ponto de inflexão. Márcia começou a acompanhar a Frente Negra Nacional e o trabalho de Leonel Brizola, questionando: “Como que nós, pretos, estamos distantes da política nacional?”
As reuniões aconteciam uma vez por mês, de forma ainda não institucionalizada. “A gente não tinha nenhum movimento registrado, era só de boca que a gente falava que era do MNU.”
O boom veio em 1988, com a Constituição. Quando o município elaborou sua Lei Orgânica nos anos 90, o movimento reivindicou, junto à vereadora Maria José Leandro, a inclusão da questão étnico-racial no documento. “Uma pauta chamada questão étnica racial que precisava ser reconhecido como preta. É uma cidade preta, era racista.”
Darcy Silva, jornalista da Rádio Inconfidência de Ouro Preto e militante da Frente Negra Nacional, ajudou a articular essa conquista. Mas o movimento ainda não tinha força constante. “Não reunia quase nada, só de vez em quando. Ninguém tinha interesse.”
Paulo Braga havia deixado a cidade. Ouro Preto ficou “descoberta” na organização negra durante anos.
A retomada (anos 2000)
No final dos anos 90, William Deodato chega à cidade com a cultura hip-hop e reacende o movimento. “Começamos a reunir todas as quartas-feiras, na Sociedade Operária São José, na Câmara Municipal. E começamos a recriar e reivindicar essa pauta.”
Márcia, Deodato e Dilson formaram o núcleo que retomou as reuniões sistemáticas. “Até 2000 nós começamos a reivindicar nosso direito de preto nessa cidade.”
Mas a resistência era grande, inclusive dentro da própria comunidade negra. “Tinha pessoas pretas que criticavam esse movimento nosso, debochavam, achavam que o movimento negro era fazer desfilezinho e concurso de beleza negra.”
Em 2002, o grupo enviou ofício ao reitor da UFOP pedindo uma audiência para discutir a presença — ou a ausência — de estudantes negros na universidade. Era o início da luta pelas cotas raciais.
A bandeira racista (2005)
No mesmo período, Eduardo Oswaldo, integrante do movimento, fez uma descoberta que mudaria a história da cidade: a bandeira de Ouro Preto trazia, em latim, a frase “Nigrum sed pretiosum” — “Precioso, porém negro”.
“Ele leu: precioso, porém negro. Aí eu falei, não, essa bandeira nós não podemos deixar, não. Porém, não. Essa bandeira não pode ser porém.”
Eduardo Oswaldo tentou entrar com projeto de lei para mudar a bandeira. Dois vereadores negros da época, segundo Márcia, disseram que “não deveria mexer com isso não, que era besteira. Isso é bobagem, não tem racismo em Ouro Preto. Mas eles mesmos não sabiam o que eles eram, eles não assumiam que eram negros.”
O projeto foi arquivado. O então presidente da Câmara, Gemas Avelar, jogou “um balde de água fria” na iniciativa.
Mas anos depois, o vereador Kuruzu retomou o projeto arquivado, articulou com os jovens do movimento hip-hop e conseguiu aprová-lo. O prefeito Angelo Oswaldo sancionou a lei. A nova bandeira passou a trazer apenas “Pretiosum” — Precioso.
No dia 20 de novembro de 2005, a cidade fez um ato público para queimar simbolicamente o racismo de Ouro Preto.
“Fizemos um movimento de queimar o racismo em Ouro Preto. Porque Ouro Preto, naquele momento, os grupos tinham que lutar.”
O evento reuniu grupos de capoeira, o Centro Espírita Três Poderes, a Comissão Ouro Preto Fórum Cultural e todos os coletivos ligados à cultura negra da cidade. A Folha de São Paulo deu uma página inteira ao movimento.
“Fizemos aquela festa no dia 20 de novembro lá na Praça Tiradentes, colocando fogo na bandeira e falando que, a partir daquele momento, todo Ouro Preto tinha que ter o conhecimento do preconceito racial e ter uma luta contra o racismo dentro da cidade e no Brasil.”
As cotas e a perseguição
A luta pelas cotas raciais e sociais na UFOP foi outra batalha central. Márcia lembra que o grupo enfrentou resistência institucional e perseguição.
“Lutamos pelas cotas sociais, conseguimos as cotas, fomos perseguidos. A turma que realmente batalhou, trabalhou pelas cotas raciais de Ouro Preto e as cotas sociais, sofreu uma certa perseguição, fomos perseguidos pra caramba.”
Ela agradece aos aliados dentro da universidade: “O Ilha, Deodato, Adilson, lá dentro da UFOP, o Luiz Gonzaga da Sociedade Operária de Ouro Preto, uma turma grande que começou.”
O legado e os desafios
Hoje, Márcia vê os frutos da luta. “Todo mundo em Ouro Preto criou coletivo. Todo mundo está falando de racismo. Todo mundo está falando de preconceito. As mulheres cada dia mais pretas se assumiram também.”
Mas ela alerta para os limites da consciência ainda em construção. “Tem umas meninas que já andam com o cabelo black power, que a gente viu nos anos 70. E tem que ter uma consciência agora de ser preto. Não é só falar que eu sou preta, mas tem que saber ser preto e saber reivindicar seus direitos de igualdade. Não é fantasiar.”
Para Márcia, a universidade dos livros não foi a que mais a formou. “A minha universidade foi esse trabalho. Foi o maior trabalho sociológico que nós fizemos.”
E diante do cenário político atual, ela deixa um recado final: “Eu tenho que reagir. Eu vou reivindicar os meus direitos, mas não entregar os meus direitos para pessoas. Esse fascismo que está aí, esse nazismo que está surgindo aí.”
A história de Márcia Valadares não é apenas uma memória pessoal. É a memória viva de Ouro Preto — uma cidade que precisou aprender a se ver preta, a se assumir preta, e a lutar contra o racismo que sempre existiu, mas que durante décadas ninguém queria nomear.